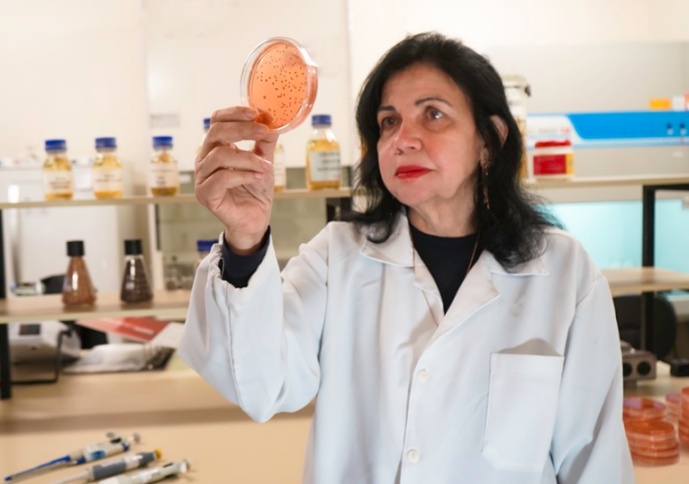Por Heloisa Burnquist*
Entre fevereiro e agosto de 2025, a tarifa norte-americana sobre o etanol brasileiro saltou de 2,5% para 52,5%, aumento de 2.000% em apenas seis meses. O motivo dessa escalada surpreendente revela uma história que começa com argumentos sobre comércio justo, mas termina em território muito diferente: uma mistura confusa de política comercial e retaliação política que transformou o etanol brasileiro em refém de disputas que nada têm a ver com comércio internacional.
Para compreender como chegamos a esse ponto, é preciso voltar ao início do ano e acompanhar os três momentos decisivos que marcaram essa transformação radical na política tarifária norte-americana.
A escalada em três atos
O primeiro ato dessa história se desenrola em fevereiro de 2025, quando o presidente norte-americano Donald Trump anunciou que iria cobrar tarifas “recíprocas” de países que, segundo sua avaliação, praticavam comércio injusto com os Estados Unidos. O etanol brasileiro foi citado como exemplo clássico dessa suposta injustiça. O argumento era direto e aparentemente razoável: enquanto a tarifa norte-americana sobre o etanol brasileiro era de apenas 2,5%, a tarifa brasileira sobre etanol norte-americano chegava a 18%. “Isso é injusto! Vamos igualar as tarifas”, declarou Trump. Do ponto de vista matemático, ele estava correto – a tarifa brasileira era 7,2 vezes maior que a norte-americana. Era uma assimetria real e mensurável. O problema é que a história não terminou onde prometia.
O segundo ato chegou em abril de 2025, quando Trump implementou uma tarifa adicional de 10% sobre todos os produtos brasileiros, não apenas o etanol. Para o etanol especificamente, isso significou uma tarifa total de 12,5%, somando os 2,5% originais aos 10% novos. Mesmo com esse aumento, o percentual ainda ficava abaixo dos 18% que o Brasil cobrava sobre o etanol norte-americano. Naquele momento, parecia que a “reciprocidade” prometida estava realmente a caminho de se concretizar, seguindo a lógica inicialmente apresentada.
Foi no terceiro ato, entre julho e agosto de 2025, que toda a narrativa mudou radicalmente de natureza. Em julho, Trump enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciando uma tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, somando 50% no total. Mas, agora, a justificativa havia mudado completamente. Não se tratava mais de corrigir assimetrias comerciais ou proteger a indústria norte-americana de etanol. A nova justificativa era política. O resultado para o etanol foi devastador: a tarifa norte-americana passou a 52,5% (somando 2,5% + 10% + 40%), enquanto a brasileira permanecia nos mesmos 18%. A ironia da situação é evidente – Trump, que inicialmente reclamou que a tarifa brasileira era 7,2 vezes maior que a norte-americana, terminou criando uma tarifa americana 2,9 vezes maior que a brasileira na direção oposta.
A seletividade reveladora das exceções
Quando a tarifa de 50% entrou em vigor em agosto de 2025, o governo norte-americano publicou uma lista extensa de 694 produtos brasileiros que seriam isentos da sobretaxa. A análise cuidadosa dessa lista revela um padrão que ilumina as verdadeiras motivações por trás da política tarifária. Entre os produtos isentos estavam o petróleo e seus derivados, que representaram nada menos que 8,5 bilhões de dólares em exportações brasileiras aos Estados Unidos no ano anterior. O suco de laranja, com 990 milhões de dólares, e o minério de ferro, com 1,8 bilhão de dólares, igualmente escaparam da tarifa adicional.
Por outro lado, produtos de valor comercial muito menor permaneceram na lista de produtos taxados. O etanol, com apenas 200 milhões de dólares em exportações anuais, foi especificamente mantido sob a tarifa completa de 50%. Café, carnes e açúcar também permaneceram taxados. A pergunta que naturalmente emerge dessa disparidade é: se a lógica fosse puramente econômica, por que razão o governo norte-americano isentaria petróleo, que representa 8,5 bilhões de dólares em comércio, mas manteria taxação sobre etanol, que representa apenas 200 milhões?
A resposta para essas perguntas não está na economia, mas na política. A seletividade das isenções é fundamentalmente política, não econômica. Os produtos isentos são aqueles que têm lobbies extremamente poderosos operando em Washington, ou são considerados estrategicamente críticos para a economia norte-americana de forma que tarifá-los causaria danos domésticos imediatos e visíveis. O petróleo é essencial para refinarias norte-americanas, e encarecer essa matéria-prima impactaria diretamente os preços da gasolina para consumidores dos Estados Unidos.
O etanol é pequeno o suficiente em valor absoluto para não mobilizar grande resistência doméstica, mas simbólico o suficiente para servir aos propósitos de narrativa política.
A contradição ambiental
Uma das contradições mais notáveis dessa política tarifária envolve precisamente as questões ambientais. O etanol brasileiro produzido a partir de cana-de-açúcar possui pegada de carbono entre 60% e 70% menor que o etanol de milho produzido nos Estados Unidos. Essa não é propaganda brasileira ou estimativa controversa – trata-se de dado amplamente reconhecido por agências ambientais, estudos acadêmicos e pela própria Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. A cana-de-açúcar é uma cultura perene que captura carbono de forma mais eficiente, o processamento do etanol de cana consome menos energia fóssil, e o bagaço da cana é utilizado para gerar energia, substituindo combustíveis fósseis no próprio processo produtivo.
Os Estados Unidos, especialmente estados como a Califórnia, estabeleceram metas ambiciosas de redução de emissões de gases de efeito estufa e dependem crescentemente de biocombustíveis para descarbonizar o setor de transportes. Regulamentações como o Renewable Fuel Standard federal e o Low Carbon Fuel Standard da Califórnia criam demanda específica por biocombustíveis de baixa pegada de carbono. O etanol brasileiro era a ferramenta ideal para atender a essas exigências regulatórias, permitindo que refinarias norte-americanas cumprissem suas obrigações ambientais de forma econômica.
A imposição de tarifa de 52,5% sobre o etanol brasileiro torna economicamente inviável importar precisamente o biocombustível mais sustentável disponível no mercado internacional. Refinarias dos Estados Unidos serão forçadas a utilizar proporções maiores de etanol de milho doméstico, que tem pegada de carbono significativamente maior, ou buscar alternativas ainda mais caras em outros mercados. É uma situação paradoxal em que a política comercial trabalha ativamente contra os objetivos de política ambiental do próprio país. É como se um governo decidisse taxar pesadamente painéis solares estrangeiros mais eficientes porque quer estimular a indústria doméstica de carvão – pode fazer sentido para certos grupos de interesse político, mas contradiz frontalmente os objetivos declarados de sustentabilidade.
O que realmente ameaça o comércio internacional
A experiência com as tarifas sobre etanol brasileiro entre fevereiro e agosto de 2025 ilustra uma lição que transcende o caso específico e ilumina questões mais amplas sobre a ordem comercial internacional contemporânea. A maior ameaça ao comércio internacional não são, como frequentemente se imagina, tarifas altas em si mesmas. Países podem e frequentemente convivem com regimes tarifários elevados quando esses são estáveis, previsíveis e transparentes. Uma empresa exportadora pode se ajustar a uma tarifa de 30%, 40% ou até 50% se essa tarifa for consistente ao longo do tempo, conhecida antecipadamente, e aplicada de forma não discriminatória.
O que nenhuma empresa consegue é planejar e ajustar-se a tarifas que saltam de 2,5% para 52,5% em seis meses por razões que nada têm a ver com o setor em questão, com a estrutura competitiva do mercado, ou com qualquer política econômica articulada. Quando exportadores brasileiros de etanol fizeram contratos no início de 2025, eles operavam sob a premissa razoável de que o ambiente tarifário, mesmo que não ideal, seria relativamente estável. Investimentos foram feitos em infraestrutura logística, relacionamentos comerciais foram cultivados, contratos de longo prazo foram negociados. Tudo isso sob expectativa de que as regras do jogo, mesmo imperfeitas, seriam minimamente previsíveis.
A imprevisibilidade radical das tarifas baseadas em motivações políticas voláteis destrói a confiança fundamental necessária para que o comércio internacional funcione eficientemente. Empresas que poderiam investir em capacidade produtiva para exportação hesitam porque não sabem se o mercado estará aberto no futuro. Bancos que poderiam financiar projetos ligados à exportação tornam-se mais cautelosos, elevando custos de capital. Compradores internacionais que poderiam estabelecer relacionamentos de longo prazo com fornecedores preferem contratos de curto prazo ou múltiplos fornecedores, aumentando os custos de transação. Toda a estrutura de confiança e previsibilidade que permite ao comércio internacional operar de forma eficiente é corroída.
É essa imprevisibilidade, muito mais que o nível absoluto das tarifas, que representa ameaça sistêmica à ordem comercial internacional. E quando essa imprevisibilidade é aplicada pela maior economia do mundo, seus efeitos ressoam muito além do caso específico, criando um precedente perigoso e minando a confiança global no sistema de comércio baseado em regras que levaram décadas para serem construídas.
*Professora da Esalq/USP e pesquisadora do Cepea.
Fonte: Cepea